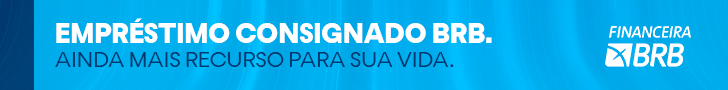Por Gazeta do Povo
Poucos problemas são tão persistentes e decisivos para o futuro do Brasil quanto a crônica deficiência na qualidade da educação e da formação dos brasileiros. Há décadas, esse obstáculo impede o país de concretizar seu tão prometido potencial, mantendo-o na incômoda condição de “nação do futuro” que jamais se realiza. As avaliações e os rankings internacionais, com regularidade quase implacável, escancaram o abismo que nos separa das nações que souberam investir com seriedade em formação educacional. A mais recente delas, o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), divulgado nesta segunda-feira (5), mostrou que o Brasil ainda pode ser chamado de um país de analfabetos.
Os números mais recentes do Inquérito Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf) escancaram a gravidade desse cenário. Cerca de 7% da população brasileira entre 15 e 64 anos permanece analfabeta – incapaz de realizar tarefas básicas que envolvam a leitura de palavras, frases simples ou operações matemáticas elementares, ainda que alguns consigam reconhecer números. A maioria desses indivíduos (86%) jamais teve acesso à escola, mas chama a atenção o fato de que 6% dos analfabetos chegaram a frequentar o ensino médio, evidenciando falhas estruturais no próprio sistema educacional.
Sem uma educação de fato qualificada, universal e baseada em evidências, capaz de formar brasileiros plenamente capazes de ler, escrever, interpretar e pensar, o Brasil continuará preso à retórica do ‘país do futuro’, eternamente adiado
Além desses, 22% da população encontra-se no nível rudimentar de alfabetismo: são pessoas que conseguem ler e escrever frases curtas, realizar operações matemáticas simples, mas enfrentam sérias dificuldades para compreender textos mais densos ou resolver problemas minimamente complexos. Nesse grupo, a escolarização também não é sinônimo de competência: 31% cursaram o ensino médio e 12% chegaram ao ensino superior. Somando-se os analfabetos e os que possuem apenas conhecimentos rudimentares, chega-se a um alarmante contingente de 29% da população considerada analfabeta funcional.
No nível seguinte, classificado como elementar, encontra-se a maior parcela da população (36%). Esses indivíduos são capazes de interpretar textos de média complexidade, resolver problemas com números até a ordem do milhar e compreender gráficos e tabelas simples – uma capacidade aquém do esperado, sobretudo quando se constata que mais da metade desse grupo (56%) concluiu o ensino médio, e 18% chegou ao ensino superior. Apenas 25% dos brasileiros possuem um nível intermediário de alfabetismo funcional, o que lhes permite lidar com textos mais complexos, aplicar conceitos matemáticos como porcentagem e proporção, e interpretar argumentos e figuras de linguagem. No topo da escala, o nível proficiente – que denota domínio pleno das habilidades de leitura, escrita e raciocínio lógico – abrange apenas 10% da população. Um número que, por si só, revela o abismo entre o ideal educacional e a realidade brasileira.
Esses dados sobre o alfabetismo, no entanto, não surpreendem. As edições anteriores do Inaf indicam que a situação tem se mantido praticamente inalterada desde 2002, com variações mínimas ao longo dos anos. A persistência desse quadro revela não apenas a lentidão das políticas públicas voltadas à educação, mas também uma preocupante naturalização do fracasso educacional no país – ou a decisão deliberada de se manter tudo como está.
Um exemplo emblemático dessa inversão de prioridades que contribuiu para o Brasil continuar com grande número de analfabetos funcionais pode ser observado na recente decisão do Ministério da Educação (MEC), sob o governo Lula, de suprimir todas as referências ao uso de “evidências científicas” na formulação de políticas voltadas à recomposição da aprendizagem no período pós-pandemia de Covid-19. O termo, que aparecia de forma recorrente – três vezes – na versão anterior do Pacto Nacional de Recomposição das Aprendizagens, publicada em 2022, durante o governo Bolsonaro, foi completamente eliminado do novo texto, divulgado em fevereiro deste ano.
Originalmente, o uso de evidências científicas era apontado como um princípio orientador fundamental, servindo de base para a tomada de decisões e o desenvolvimento de recursos pedagógicos eficazes, voltados a professores e gestores. Na nova versão, esse compromisso com a efetividade foi substituído por diretrizes genéricas como a “promoção da equidade” e o reconhecimento das “diversidades e singularidades” dos estudantes, abrindo espaço para decisões meramente ideológicas na educação, que em nada poderão contribuir para resolver a crítica situação da educação brasileira.
A experiência internacional e a própria lógica do desenvolvimento sustentado demonstram que educação, ciência, tecnologia e domínio dos processos produtivos são os verdadeiros motores do progresso econômico e social – muito mais determinantes do que a simples posse de recursos naturais. Um país que negligencia a formação de seu povo está, na prática, abrindo mão de seu futuro. Sem uma educação de fato qualificada, universal e baseada em evidências, capaz de formar brasileiros plenamente capazes de ler, escrever, interpretar e pensar e não apenas analfabetos funcionais, o Brasil continuará preso à retórica do “país do futuro”, eternamente adiado. Passou da hora de tirarmos a educação do papel e colocá-la no centro das prioridades nacionais – não apenas nos discursos, mas nas decisões concretas e, sobretudo, nos resultados.